
Gibson Da Costa
“Apartheid” é uma palavra da língua africâner que significa “separação” e se refere a um sistema de segregação racial praticado pela minoria de origem europeia (branca) contra uma maioria nativa (negra) na África do Sul, de 1948 a 1991.
As noções de supremacia branca e segregação racial chegaram à África do Sul com os primeiros colonos europeus. A Companhia Holandesa das Índias Orientais importou escravos da África Oriental e da Malásia assim que estabeleceu uma pequena colônia no Cabo da Boa Esperança, em 1652. Apesar de os britânicos terem abolido a escravidão logo após terem anexado a Colônia do Cabo, em 1806, mantiveram várias instituições e práticas que garantiam o controle político e econômico dos brancos sobre a maioria negra. No início do século XX, os britânicos controlavam toda a atual África do Sul, com o poder político quase que inteiramente nas mãos de pessoas de ascendência europeia. Com a Lei da União, de 1910, a África do Sul ganhou o status de “Domínio” dentro do Império Britânico e autogoverno limitado.
Entre 1910 e 1948, o governo da União estabeleceu muitas leis que restringiram severamente os direitos das populações negras. Aos negros foi negada a cidadania plena por meio de medidas como a Lei do Passe (lei que exigia que os negros carregassem livretos de identidades, parecidos com passaportes, nos quais eram registrados os locais aonde podiam ir), reservas de trabalho, restrições ao voto, negação ao direito de organização de sindicatos etc. As Leis das Terras Nativas de 1913 e 1936 relegaram a maioria africana a reservas nativas, forçando entre 85% a 90% da população, em teoria – apesar de nunca, de fato –, a viver em menos de 14% da terra. Os 86% restantes da terra foram reservados apenas para brancos.
Assim, quando Daniel F. Malan (1874-1959) e o seu Partido Nacionalista Africâner venceram as eleições gerais de 1948, com um plano que oficialmente endorsava o apartheid, o conceito não era desconhecido nem às populações brancas nem negras. Ironicamente, numa época na qual a Europa e a América do Norte estavam tomando ações para acabar com a discriminação legalizada contra minorias étnicas, os sul-africanos brancos começaram a implantar um dos mais duros sistemas de discriminação racial total na história mundial.
A filosofia política do apartheid baseava-se em quatro pontos principais:
-
o “desenvolvimento separado” dos quatro grupos raciais oficiais no país;
-
o controle pelos brancos de todos os aspectos do governo e da sociedade;
-
os interesses dos brancos como sendo superiores aos interesses dos negros, sem nenhuma exigência para a provisão de direitos iguais a todos os grupos;
-
a categorização de “brancos” (pessoas de ascendência europeia) como uma única nação e de “africanos” como membros de muitas nações distintas.
Os quatro grupos raciais oficialmente reconhecidos pelo apartheid foram:
-
Africanos, também chamados de Bantus → formavam cerca de 78% da população total e, apesar de possuírem uma ancestralidade comum, foram divididos em nove nações distintas: Zulu, Xhosa, Venda, Tsonga, Pedi, Tswana, Swazi, Ndebele e Sotho.
-
Coloureds (em inglês) ou Kleurlinge (em africâner) → nome dado às pessoas de origens mestiças com ancestrais africanos, europeus e malaios, e que podiam traçar suas origens ao início da colonização europeia.
-
Asiáticos → termo utilizado para se referir às pessoas de origem indiana.
-
Europeus → termo utilizado para fazer referência aos sul-africanos brancos de origem europeia.
“Coloureds” e “asiáticos” representavam entre 9% e 10% da população. Os demais 12% ou 13% eram formados pelos “europeus” – com cerca de 60% desses tendo origem holandesa e 40% com origem inglesa (apesar de imigrantes de todas as nações europeias estarem representados nessa única “nação”).
O sistema do apartheid foi descrito, às vezes, como tendo dois aspectos, chamados de grande e pequeno apartheid. O “grande apartheid” se refere àquelas leis racialmente discriminatórias que se relacionavam com a terra e a política. O “pequeno apartheid” se refere aos exemplos cotidianos de discriminação racial, como restrições de casamento, segregação de serviços públicos, zoneamento de residências, segregação de empregos, transporte e educação.
O Período Baaskap
Durante a primeira década seguinte às eleições de 1948, as políticas do apartheid foram desenvolvidas de forma crua sob o nome de baaskap. Esse termo africâner pode ser traduzido como “superioridade” ou “controle”, e faz referência à ideia de “supremacia branca”, com sua explícita noção da relação entre mestre e servo que deveria haver entre europeus e africanos.
É importante lembrarmo-nos de que o apartheid está intrinsecamente ligado ao nacionalismo africâner. Assim, não podemos desassociar as leis de segregação estrita e supremacia branca da aparente obsessão dos líderes africâneres com sobrevivência cultural e seu temor do chamado “swart gevaar” (“perigo negro”). Algumas dessas leis foram as seguintes:
-
Lei de Proibição de Casamentos Mestiços (1949) – proibia o casamento entre pessoas de grupos raciais diferentes;
-
Lei Contra a Imoralidade (1950) – tornou crime a relação sexual entre pessoas de grupos raciais diferentes;
-
Lei de Registro da População (1950) – exigia que todos fossem registrados como membros de um dos grupos raciais oficiais;
-
Lei das Áreas de Grupo (1950) – estabelecia os limites raciais da geografia urbana, prescrevendo a cada grupo diferentes bairros residenciais/comerciais nas áreas urbanas. Com base nessa lei, não brancos eram retirados das áreas que o governo considerava mais nobres, tendo sido empurrados para cada vez mais longe de onde podiam conseguir trabalho;
-
Lei de Supressão do Comunismo (1950) – além de banir o Partido Comunista da África do Sul, definia qualquer opositor do apartheid como comunista e terrorista – a pena incluía perda de direitos políticos, prisão e o banimento a alguma outra região do país (os brancos que se opunham publicamente ao apartheid foram punidos com base nessa lei) [NOTA: no discurso “Estou preparado para morrer” (“I am prepared to die”, em inglês), Nelson Mandela faz referência a essa tática de identificar todos os inimigos do apartheid como comunistas e explica por que esses dois grupos se aproximaram, apesar de suas diferenças];
-
Lei de Reserva de Espaços, Veículos e Serviços Públicos Separados (1953) – lei que legalizava a segregação racial em todos os espaços, veículos e serviços públicos; apenas as ruas e rodovias estavam excluídas desta lei.
-
Lei da Educação Bantu (1953) – desautorizava as escolas privadas e religiosas e colocava todo o sistema educacional nacional sob a direção do governo, resultando num significativo declínio na qualidade da educação dos negros.
A imagem acima pode ajudar a perceber como o apartheid funcionava na organização do espaço urbano. No centro, vemos a cidade “europeia” de Graaf-Reinat, na Província do Cabo Oriental. Ao seu redor, vemos outras povoações, onde moravam “africanos” e “coloureds”. Essa separação cumpria às exigências da Lei das Áreas de Grupo. Para que esses “africanos” e “coloureds” saíssem de suas casas e fossem trabalhar para os “europeus”, tinham de carregar seus livretos de passe (passaportes), em obediência à Lei do Passe. Esses “africanos” e “coloureds” não podiam ir a uma loja, a um parque, a uma biblioteca ou a um hospital naquela cidade “europeia”: tinham de fazê-lo, cada grupo, em sua respectiva área – em obediência à Lei de Reserva de Espaços, Veículos e Serviços Públicos Separados. Qualquer um deles – inclusive brancos – que protestasse contra isso seria punido com base na Lei de Supressão do Comunismo.
O Período do Desenvolvimento Separado
Em 1958, Hendrik Verwoerd (1901-1966), conhecido como o “arquiteto chefe do apartheid”, tornou-se primeiro ministro. Sob seu governo, o apartheid tornou-se uma política racista mais sofisticada chamada de “desenvolvimento separado”. Sob o desenvolvimento separado, cada um dos nove grupos “africanos” (ou “bantu”) passou a ter sua própria nação – chamada de “Bantustão” –, localizadas naqueles 14% de terras reservados pelas Leis das Terras Nativas de 1913 e 1936. Os 86% restantes do país estavam reservados apenas para os brancos: essas incluíam as melhores terras agrícolas, as principais áreas urbanas, os depósitos minerais conhecidos e as minas.
A compreensão que sustentava a filosofia política do “desenvolvimento separado” era a de que os “africanos” deveriam retornar às suas pátrias independentes, e, lá, se desenvolver social, econômica, cultural e politicamente de acordo com seus próprios desejos. O argumento era de que, dessa forma, todas as nações da África do Sul – a “nação” branca e as nove “nações” negras – teriam autodeterminação e não seriam forçadas a viver sob um governo estrangeiro.
A autodeterminação, contudo, só se iniciaria quando os “africanos” entrassem em sua pátria. Eles não tinham a escolha de se mudar ou não, apesar de muitos terem vivido há gerações em cidades e de nunca terem estado sequer próximo à sua pátria designada. Ademais, muitos “africanos” tinham ancestrais de diferentes origens, com, por exemplo, um avô xhosa e uma avó sotho, ou uma outra combinação dos nove diferentes grupos. Agora, eles teriam um documento que oficialmente os classificaria como pertencendo a apenas um desses grupos e como cidadãos duma pátria artificial criada pelo governo. Eles eram, agora, estrangeiros na África do Sul – um país que, teoricamente, não mais possuía cidadãos negros, e havia se tornado um país majoritariamente branco.
Em 1963, o regime do apartheid concedeu uma autonomia limitada ao primeiro dos bantustões, Transkei (uma pátria xhosa). Entre 1976 e 1981, Transkei, Bophuthatswana (uma pátria tswana), Venda (pátria venda) e Ciskei (uma pátria xhosa) receberam sua “independência” do governo da República da África do Sul – apesar de nenhum outro governo do mundo haver reconhecido essas “nações”. KwaZulu, KwaNdebele, Lebowa, KaNgwane, Gazankulu e Qwa Qwa foram declarados como “autônomos” ao longo da década de 1970. Nenhuma dessas pátrias, contudo, jamais foi economicamente viável. Elas consistiam basicamente de terras incultiváveis. As famílias dependiam dos familiares que trabalhavam nas áreas brancas e enviavam seus salários para casa. Todas essas pátrias foram abolidas em 1994, e suas terras foram reincorporadas ao território da República da África do Sul.
Oposição
A oposição ao apartheid se iniciou imediatamente após as eleições de 1948. Armado com a Lei de Supressão do Comunismo – que, apesar de suas políticas racistas, fez com que a África do Sul ganhasse apoio dos EUA e da Grã-Bretanha durante a Guerra Fria –, o regime do apartheid conseguiu esmagar a maioria da resistência interna. O mais importante grupo negro de oposição foi o Congresso Nacional Africano (CNA), cujos membros incluíam Albert Luthuli (1898-1967; ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1961), Walter Sisulu (1912-2003), Oliver Tambo (1917-1993) e Nelson Mandela (1918-2013). Em 1955, o Congresso do Povo adotou a chamada “Carta da Liberdade” que exigia uma África do Sul multirracial e democrática; esta carta foi adotada pelo CNA.
Já no início da década de 1960, enquanto dezenas de nações africanas conseguiram sua independência, a África do Sul enfrentava uma crescente condenação internacional – especialmente advinda dos países do chamado bloco socialista. Em 1961, o país deixou a Comunidade Britânica de Nações, em vez de ser forçado a abandonar o apartheid. No mesmo ano, as Igrejas Reformadas Holandesas da África do Sul abandonaram o Conselho Mundial de Igrejas. O país também perdeu seu direito a voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, e foi banido dos jogos olímpicos e de muitas organizações internacionais.
Sob a liderança de Nelson Mandela, o CNA formou uma ala militar em 1961, chamada de “Umkonto we Sizwe” (Lança da Nação), que recorria à violência em sua resistência ao apartheid. Em 1963, Mandela e sete outros foram julgados e condenados à prisão perpétua.
O governo, a essa altura, já havia banido todas as organizações que se opunham ao sistema, e colocado na prisão ou em detenção residencial muitos dos opositores – lideranças políticas e religiosas, escritores, artistas, professores, jornalistas, estudantes.
Hendrik Verwoerd foi assassinado em 1966, e sob seu sucessor, Balthazar Johannes Vorster (1915-1983), alguns aspectos do “pequeno apartheid” foram relaxados. A decisão do governo, em 1976, de exigir instrução obrigatória em africâner nas escolas “africanas” deu início a uma série de revoltas – que se iniciaram em Soweto e depois se espalharam pelo país.
É importante perceber que, para os sul-africanos que não possuíam origem holandesa, a língua africâner sempre esteve associada à ideia do nacionalismo bôer e intrinsecamente ligado ao apartheid. A língua utilizada pelos sistemas de educação dos grupos “africanos” ou “asiáticos” era o inglês. Por isso a revolta como reação à nova decisão: agora, o regime do apartheid, além de tirar a cidadania, as terras, a dignidade humana dos negros, imporia sua língua às crianças e jovens africanos.
Em 1978, Pieter Willem Botha (1916-2006) tornou-se primeiro ministro e começou a conceder aos “coloureds” e aos “asiáticos” alguns direitos políticos limitados, tentando, assim, melhorar a imagem do país no cenário internacional e conseguir desses dois grupos o apoio necessário para a permanência do regime.
Após a independência do Zimbábue, em 1981, a África do Sul e a Namíbia (uma antiga colônia alemã que fora tomada pela África do Sul, desde 1915) continuaram como os únicos países africanos governados por grupos de origem europeia, e enfrentavam uma forte pressão interna e externa por mudanças. A África do Sul passou a sofrer sanções econômicas cada vez mais duras, que incluíam a alienação de filiais de grandes corporações americanas no país.
O fim do apartheid
Em 1989, Frederik Willem de Klerk (1936-…) tornou-se primeiro ministro e imediatamente anunciou a soltura de muitos presos políticos negros. Em fevereiro de 1990, ele declarou, no Parlamento, que o apartheid havia falhado, que o banimento de todos os partidos políticos seria anulado e que Nelson Mandela seria libertado – depois de 27 anos de prisão. Em 1991, todas as leis do apartheid foram abolidas. Após três anos de intensas negociações, todos os lados concordaram, em 1993, com os passos para a formação dum governo transitório multirracial e multipartidário.
As eleições aconteceram em abril de 1994, e Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente eleito pela maioria, de forma livre e direta, na história da África do Sul. Em 1995, ele formou a Comissão da Verdade e Reconciliação, com o arcebispo anglicano Desmond Tutu (1931-…) como seu diretor, para investigar os abusos sofridos por todos os sul-africanos durante o regime do apartheid. A comissão anunciava como sua missão não a punição, mas o conhecimento do passado e a reconciliação entre os vários grupos divididos durante o apartheid.
FONTES
BENSON, M. Nelson Mandela, the man and the movement. Harmondsworth, Inglaterra: Penguin, 1994.
DEGRUCHNY, J.W.; VILLA-VICENCIO, C. (eds.). Apartheid is a heresy. Grand Rapids, EUA: W. B. Eerdmans, 1983.
LAPPING, B. Apartheid: a history. Nova York, EUA: G. Braziller, 1989.
THOMPSON, L. M. A history of South Africa. 3.ed. New Haven, EUA: Yale University Press, 2000.
WELSH, David. The rise and fall of apartheid. Charlottesville, EUA: University of Virginia Press, 2009.
WORDEN, Nigel. The making of modern South Africa. 5.ed. Malden, EUA: Wiley-Blackwell, 2012.
_______________________________________________________
FILMES DE INTERESSE:
EM NOME DA HONRA. Phillip Noyce (dir.). França / Reino Unido / África do Sul / EUA: Working Title Films, 2006. 1 filme (101 min.), son., col. [Título original: Catch a fire]. Leg. português.
INVICTUS. Clint Eastwood (dir.). EUA/África do Sul: Liberty Pictures, 2009. 1 filme (133 min.), son., col. [Título original: Invictus]. Leg. português.
MANDELA – A LUTA PELA LIBERDADE. Bille August (dir.). África do Sul / Itália / Reino Unido / Luxemburgo / Alemanha / França: Film Afrika Worldwide, 2007. 1 filme (118 min.), son., col. [Título original: Goodbye Bafana]. Leg. português.
REPÓRTERES DE GUERRA. Steven Silver (dir.). Canadá/África do Sul: Paramount Pictures, 2010. 1 filme (106 min.), son., col. [Título original: The Bang Bang Club]. Leg. português.
SOMBRAS DO PASSADO. Tom Hooper (dir.). Reino Unido/África do Sul: BBC Films, 2004. 1 filme (110 min.), son., col. [Título original: Red Dust]. Leg. português.



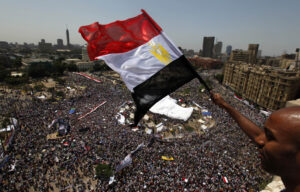



 Exemplo mais famoso entre os brasileiros de “filósofo” da antifilosofia
Exemplo mais famoso entre os brasileiros de “filósofo” da antifilosofia